O capitalismo faz o trabalho de Deus ou do Diabo?
Dêmos a palavra aos “apocalípticos”: isto está nas últimas, o euro vai rebentar, a UE vai desagregar-se, a Europa está em ruínas, a classe média está a ser esmagada e extinguir-se-á em breve, a culpa é do FMI, da troika, dos bancos suíços, da Goldman Sachs, dos especuladores, do Clube de Bilderberg e, genericamente, do capitalismo e da globalização, que são intrinsecamente maus.
Já os “integrados” acham que está tudo bem: vai haver cada vez maior prosperidade, não há problemas sociais, políticos ou ambientais graves que não se encaminhem para a resolução, os povos do mundo inteiro partilham um genuíno amor pela democracia liberal e pela economia de mercado e o capitalismo e a globalização são intrinsecamente bons.
Estarão a falar do mesmo planeta? Como pode uma mesma realidade ter leituras tão diversas? Será que, como nas telenovelas, o capitalismo se divide por um gémeo bom e um gémeo mau e os integrados só conhecem o primeiro e os apocalípticos o segundo?
Os integrados
Uma característica inquietante dos comentadores e autores “integrados” é que alguns deles são “integrados” no sentido da palavra inglesa “embedded” – isto é, fazem parte das elites que têm gerido a economia e a política mundial. Poderemos esperar isenção de A Ordem Mundial(2014, publicado em Portugal pela D. Quixote), de Henry Kissinger, que foi, entre 1969 e 1977, Conselheiro de Segurança Nacional e Secretário de Estado de Nixon e Ford, e tem continuado, através da participação na Comissão Trilateral e vários think tanks e na qualidade de membro de conselhos de administração de empresas e fundações, professor universitário, conferencista e consultor, a ser figura influente na condução dos destinos do mundo?
Que crédito pode dar-se a uma análise da presente ordem mundial e das vias prováveis da sua evolução que não dedica à globalização mais de quatro parágrafos (num livro de 476 páginas) e não faz referência ao peso desproporcional da finança virtual face à economia real, à desregulação dos mercados financeiros, ao crescimento das desigualdades na distribuição de rendimentos, à diminuição da remuneração do trabalho face à remuneração do capital, à desindustrialização do Ocidente em favor da Ásia, à crise das dívidas soberanas europeias, à ascensão do poderio económico e relevância internacional dos BRICs, à persistente estagnação da economia japonesa, à aquisição de nacos apetitosos (e emblemáticos) do tecido económico ocidental por empresas de países emergentes, fundos soberanos da região do Golfo e cleptocratas africanos enriquecidos pelo petróleo, ou à aquisição pela China de terrenos agrícolas e fontes de matérias-primas em África?
A demografia também não entra nas contas da ordem mundial de Kissinger, pelo que nada diz sobre estagnação e envelhecimento da população europeia, crescimento demográfico nos países em desenvolvimento, fluxos migratórios, integração de imigrantes, crescimento do peso e das reivindicações das comunidades islâmicas nos países europeus. Fechando os olhos a tudo isto, é natural que se seja optimista e se creia na bondade inata do capitalismo e no inelutável e benfazejo alastrar do modelo de vida ocidental a todo o planeta.
Matt Ridley, autor de O Optimista Racional (2010, publicado em Portugal pela Bertrand) entende que os mercados de capitais e valores são instáveis e propensos a “bolhas”, pelo que “necessitam de uma regulação eficaz”, e manifesta desagrado pela ganância que “leva os mercados de valores a passar das marcas”. O que é curioso é que este Matt Ridley é o mesmo que em 2007 era chairman do Northern Rock, banco que teve a duvidosa honra de ter sido o primeiro, em 150 anos de história da banca britânica, a ser alvo de uma corrida dos clientes aos depósitos, depois de se ter dado mal com um esquema manhoso de securitização de hipotecas. Os contribuintes britânicos pagaram 27 mil milhões de libras pelo violento despiste do Northern Rock – que foi nacionalizado e separado num “banco bom” e num “banco mau”, prefigurando um cenário que se tornaria demasiado familiar – e Ridley safou-se sem um arranhão, o que deve tê-lo convencido de que era invulnerável.
Só assim se explica que conclua o livro com um petulante “Atreva-se a ser optimista”, alicerçado na convicção de que a “destruição criativa” é o motor da economia, de que a liberdade “deve muito ao comércio”, de que “os mercados são bons a sustentar as necessidades das minorias”, de que teremos a ganhar com uma maior intensificação da agricultura, de que “as situações climáticas extremas [decorrentes do aquecimento global] são tão improváveis e dependem de pressupostos tão extravagantes que não provocam a mais pequena mossa no meu optimismo”, de que poderá assegurar-se o abastecimento ilimitado de energia a partir do aproveitamento do vento solar ou da rotação da Terra, ou ainda de “aparelhos que cubram o planeta de espelhos colocados no ponto de Lagrange, entre o Sol e a Terra” (tudo fantasias que os adeptos da ficção científica acarinham há décadas mas para as quais não existe sustentação do ponto de vista de exequibilidade e, menos ainda, da rentabilidade).
O entusiasmo de Ridley leva-o a ignorar a evolução dos coeficientes de Gini nas últimas duas ou três décadas, a proclamar que “as desigualdades estão a diminuir por todo o mundo” (ou, como afirma noutro ponto, “os ricos ficaram mais ricos, mas os pobres ficaram ainda melhor”) e a prever que “seguindo o ritmo provável de declínio [a percentagem de pessoas que vivem em absoluta pobreza] atingiria o zero por volta de 2035” – ainda que, enigmaticamente, acrescente: “embora seja provável que tal não aconteça”.
Será que, como nas telenovelas, o capitalismo se divide por um gémeo bom e um gémeo mau e os integrados só conhecem o primeiro e os apocalípticos o segundo?
Mas para que este Admirável Mundo Novo se concretize, é preciso, diz-nos Ridley, que o Estado se retire de cena e deixe de “sobrecarregar a economia com regras, restrições, subsídios, distorções e corrupção” (em 2006, tinha afirmado que “quanto mais limitarmos o crescimento do Estado, melhor será para todos”). O outro obstáculo, embora de proporções menores, é “a lengalenga queixosa dos intelectuais pessimistas”, dos ambientalistas, dos inimigos da “cultura do empreendedorismo” e dos profetas do apocalipse – “o catastrofismo vende bem, basta olhar para as livrarias”, aponta Ridley.
Depois de conviver com a exuberância destravada de O Optimista Racional, O Consolo da Economia: Como todos iremos beneficiar com a nova ordem mundial (2014, publicado em Portugal pela Temas & Debates), de Gerard Lyons, parece um modelo de sensatez. Mas não tarda que se perceba que também a sua visão do mundo está seriamente distorcida, o que não é supreendente para quem conheça o currículo do autor: economista-chefe em vários bancos de prestígio, membro do Fórum Económico Mundial, conselheiro económico do actual mayor de Londres, habituado ao convívio com a alta roda do poder mundial.
Lyons até é capaz de inventariar muitos dos problemas e focos de tensão no mundo actual, mas quando chega à fase de apresentar soluções, limita-se a frases evasivas ou levianas e recomendações tão vagas que são inúteis.
Veja-se o caso do crescimento desmesurado dos mercados financeiros, da sua desregulação e dos riscos de crise que tal acarreta, com terríveis consequências para a economia real. Lyons cita Lord Turner, que classifica os mercados financeiros como “socialmente inúteis”, e um relatório da Mackinsey que mostra que “o financiamento aos agregados familiares e às empresas não financeiras [que deveria ser a finalidade fundamental do sector financeiro] correspondeu a pouco mais de um quarto do aumento” da actividade financeira mundial entre 1995 e 2007.
Mas quando chega a altura de enfrentar esta aberração, Lyons sugere, simplesmente, que o sector financeiro deveria “retirar as lições adequadas” da crise do sub-prime de 2008. Ora, não há sinais de que essas lições tenham sido retiradas ou, sequer, de que os fautores do caos e da miséria à escala global tenham reconhecido que procederam mal: Lloyd Blankfein, CEO da Goldman Sachs, declarou, logo em 2009, que ele e os seus congéneres estavam, afinal de contas, “a fazer o trabalho de Deus” e não foi preciso esperar muito para que alguns dos bancos salvos com o dinheiro dos contribuintes voltassem, após breve período de falsa contrição, às práticas temerárias de sempre e a arranjar novos ardis para contornar os mecanismos de regulação entretanto implementados.
Aliás, Portugal oferece instrutivos exemplos de como, mesmo depois do (suposto) reforço da regulação, as entidades supervisoras continuam a ser impotentes para travar as moscambilhas dos grupos financeiros, sem que se perceba se a inoperância decorre dos regulamentos ou das pessoas que os deveriam aplicar.
Uma crença – muito perigosa – que é comum à maioria dos “integrados” é a de que chegámos ao fim da história. Afirma Lyons que, “globalmente, as sublevações da Primavera Árabe de 2011 mostraram que os povos aspiram à democracia”, pelo que se presume que Lyons crê que atingimos o ponto terminal da evolução ideológica da humanidade e que, mais tarde ou mais cedo, é inevitável que todo o mundo adopte o modelo ocidental de democracia liberal e economia de mercado.
Alguns dos países envolvidos na Primavera Árabe conheceram, por comparação com o período em que eram ditaduras, um retrocesso no campo dos direitos humanos, e em particular no domínio do estatuto das mulheres e das liberdades civis.
O rescaldo das Primaveras Árabes tem vindo a mostrar algo bem diverso. É verdade que as elites urbanas, jovens e com estudos dos países árabes “aspiram à democracia”, mas elas não representam o sentir de toda a população. Os tiranos depostos pelas Primavera Árabe têm sido substituídos por forças políticas de inspiração islamista, desejosas de substituir as leis civis pela sharia, ou por caóticos e insolúveis conflitos entre facções tribais e religiosas, dando origem a estados falhados. Alguns desses países conheceram, por comparação com o período em que eram ditaduras, um retrocesso no campo dos direitos humanos, e em particular no domínio do estatuto das mulheres e das liberdades civis.
Juntamente com a derrota, nos países árabes, da democracia liberal pelo fundamentalismo islâmico, também o recrudescer dos nacionalismos na Europa, o alastramento das ambições imperiais da Rússia (criando em seu trono uma almofada de estados-clientes ou de estados falhados) e a robustez do regime autoritário de capitalismo de Estado na China contribuem para desmentir a visão de “fim da história” e são sérias ameaças ao cenário de estabilidade e prosperidade que Lyons tenta vender – não será por acaso que não menciona nenhuma destas realidades no seu livro.

As questões ambientais e o aquecimento global são invariavelmente desvalorizados pelos integrados (Torsten Blackwood – Pool/Getty Images)
Outra característica comum aos “integrados” é a leviandade com que abordam os problemas de ambiente e de esgotamento de recursos naturais. A tecnologia – ainda por inventar e testar ou demonstrar a viabilidade económica – é solução para tudo: se Ridley entra literalmente em órbita, Lyons vê “as cidades inteligentes [a] tornarem-se uma realidade” e dá como exemplo o Abu Dhabi – que, por ironia é, com os parceiros dos Emiratos Árabes Unidos, um dos mais insustentáveis estados do mundo, assente no consumo perdulário de combustíveis fósseis – e elogia-lhe as “cidades inteligente e amigas do ambiente”. Afirma confiar nas “tecnologias verdes” para resolver tudo, embora sem esclarecer como vai dar-se tal milagre.
Mas mesmo que não consiga contrariar-se o aquecimento global, Lyons exulta com a eventualidade de a fusão do gelo no Árctico “abrir novas rotas marítimas que poderiam ter um impacto transformador no comércio, em particular no caso de economias como a China, a Rússia e a Islândia”. Dir-se-ia que o nome do meio de Gerard Lyons é Pangloss, mas a verdade é que para ele, como para os outros economistas, consultores, gestores, decisores, administradores e políticos que conduzem os destinos do mundo, as alterações climáticas são assuntos remotos e abstractos.
Eles não são ursos polares nem caçadores inuit, passam a maior parte da sua vida em ambientes climatizados e o único gelo que os preocupa é o que dança nos seus copos de whiskey – há que assegurar que é feito com uma boa água mineral e não com ordinária água da torneira. E se, no próximo Inverno, não houver neve suficiente em Davos, poderão sempre ir esquiar para outro resort.
Os apocalípticos
Os “integrados” poderão viajar em classe executiva e jantar em restaurantes selectos e até jogar golfe com sheiks e CEOs, mas os “apocalípticos” levam-lhes clara vantagem no número. A quantidade de livros que pretendem denunciar os podres do capitalismo, a confraria secreta dos banqueiros centrais, os tentáculos do FMI ou do menos conhecido (mas não menos temível) Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o poder ilimitado das multinacionais, ou o jugo desumano imposto pelo BCE, é esmagador – e nem é preciso contabilizar a abundante produção no domínio das teorias conspirativas, onde se contam títulos suficientes para encher uma estante ou duas sobre os desígnios malévolos do Clube de Bilderberg e títulos tão impagáveis como Rule by Secrecy: The hidden history that connects the Trilateral Comission, the Freemasons & the Great Pyramids ou Our Occulted History: Do the global elite conceal ancient aliens?.
A maioria dos “apocalípticos” não acredita que sob a aparência humana de Mario Draghi, Christine Lagarde, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble ou Jeroen Dijsselbloem se ocultem cefalópodes-vampiros de Antares, mas também não espera que algo de bom possa vir do capitalismo ou da globalização. Alguns parecem mesmo crer que o modelo ocidental de democracia liberal e economia de mercado – no qual estão integrados e que lhes assegura a subsistência, os confortos, as liberdades e as garantias – é o mal encarnado, que a história do Ocidente se resume a guerras, pilhagens e exploração colonial e que aquilo a que chamamos progresso foi uma longa série de equívocos. Se muitos defendem que a Grande Iniquidade começou com a Revolução Industrial, uma minoria até sugere que a Humanidade começou a asnear com a invenção da agricultura (ou, como diria Jean-Jacques Rousseau, com “o primeiro que vedou um terreno, e se lembrou de dizer ‘Isto é meu’”).
O problema de muitos inimigos do capitalismo e do progresso é que têm memória muito curta. Gavin Hweitt (n. 1951), autor de O Continente Perdido (publicado em Portugal pela Bizâncio), não proclama que a agricultura tenha sido um erro, mas qualifica o nosso tempo como “o mais negro momento da Europa desde a II Guerra Mundial”. Hewitt estará certamente esquecido de que no ano do seu nascimento Portugal e Espanha viviam sob regimes autoritários de direita, enquanto todo o Leste europeu vivia sob regimes autoritários de esquerda, e que as mulheres suíças ainda estavam a 20 anos de conquistar o direito de voto. O racionamento na Grã-Bretanha, que começara com o início da II Guerra Mundial, só terminara um ano antes do seu nascimento e a guerra civil na Grécia, que começara pouco depois do fim da II Guerra Mundial, concluíra-se dois anos antes.
Mas para se apreciar devidamente o panorama convém recuar bem mais. Hoje em dia, quando um país apresenta taxas de crescimento anuais do PIB de 1%, os comentadores e os políticos na oposição, da extrema-direita à extrema-esquerda, não hesitam em rotulá-las de “anémicas” e em ver nelas um sintoma inequívoco do total fracasso da governação. As recentes estimativas do World Economic Outlook do FMI apontando para um crescimento médio do PIB dos países desenvolvidos de 1,6% durante o período 2015-2020 levaram mesmo a que se falasse de “estagnação secular”, uma expressão de ressonâncias ominosas, evocadora de um regresso a tempos anteriores à existência deroaming, banda larga, impressoras 3D e até papel higiénio de folha dupla.
Porém, entre a Antiguidade e a Idade Média, estima-se que as taxas de crescimento tivessem rondado 0.05 a 0.1% ao ano. Durante milénios, o destino mais provável de cada novo ser humano vindo ao mundo seria viver exactamente como viveram os seus pais, sem acesso a mais bens, facilidades, confortos, saúde, educação ou informação do que as gerações precedentes – uma constatação que não será fácil de apreender por quem se habituou a trocar de iPhone de cada vez que surge um novo modelo.
Tome-se o caso das taxas de crescimento económico anual da Grã-Bretanha: estima-se que entre 1270 e 1700 a média foi de 0,2%. Entre 1700 e 1870, período que assiste, primeiro à ascensão da Grã-Bretanha a maior potência naval e comercial do mundo e, depois, à liderança da Revolução Industrial, ficou-se por uns modestos 0,48% (Broadberry et al., 2010), se bem que esta média oculte que a partir de 1820, com a Revolução Industrial a carburar em pleno, se registaram taxas de crescimento anual de 2%.
Entre 1900 e 2000, o PIB per capita dos EUA passou de 5000 para 35.000 dólares (valores corrigidos para a inflação), o que representa um incremento da riqueza média individual de 7.5 vezes. Mas é preciso considerar que, durante esse período, o horário de trabalho médio diminuiu e a oferta de bens e serviços se expandiu – e quando se entra em conta com esses factores de correcção, estima-se que os padrões de vida se elevaram 20 vezes entre 1900 e 2000. Esta última estimativa é, todavia, muito discutível, uma vez que compara coisas substancialmente diferentes: não seria possível adquirir um computador portátil em 1900, mesmo que se tivesse todo o dinheiro do mundo.
Entre a Antiguidade e a Idade Média, estima-se que as taxas de crescimento tivessem rondado 0.05 a 0.1% ao ano. Durante milénios, o destino mais provável de cada novo ser humano vindo ao mundo seria viver exactamente como viveram os seus pais.
Na parte sensata de O Optimista Racional, Matt Ridley lembra que “a prosperidade é isto: o aumento da quantidade de bens e serviços que se pode adquirir com a mesma quantidade de trabalho” e apresenta numerosos e reveladores exemplos de como as nossas vidas prosperaram em todos os domínios. O exemplo mais esmagador é o da luz artificial: “uma hora de trabalho, hoje, paga 300 dias de luz de leitura, uma hora de trabalho em 1800 pagava dez minutos de luz de leitura”. Ainda assim, esta comparação deixa de fora as tremendas vantagens da iluminação moderna: “o fácil que é ligá-la, a ausência de fumo, cheiro e tremeluzir, o menor [nulo?] risco de incêndio”.
Entre 1895 e 2000 as horas de trabalho necessárias para adquirir uma bicicleta reduziram-se de 260 para 7,2 e isto sem ter em conta que uma bicicleta de 1895 é, pelos padrões de hoje, um mono pesado, esconfortável, pouco eficaz e muito perigoso. No caso de uma cadeira de escritório passou-se de 24 para 2,0, no de um serviço de jantar de 100 peças de 44 para 3,6, no de uma escova de cabelo de 16 para 2,0. Só no caso de um piano Steinway (cujo fabrico continua a requerer muitas horas de trabalho manual altamente especializado) o decréscimo foi menos significativo: de 2400 para 1107,6 horas – e um Steinway de 2000 não é melhor do que um de 1895.
Mas o que esta elementar comparação de valores deixa de fora é que enquanto em 1895 as possibilidades de desfrutar de música no lar estavam limitadas ao piano (não contando com o grasnido roufenho e a limitada escolha de discos do fonógrafo) e este requereria, obrigatoriamente, a intervenção de alguém que o soubesse tocar e possuía um repertório limitado, hoje dispomos de muitas soluções que proporcionam acesso a milhões de horas de música de todos os géneros a custos comparativamente irrisórios – se o objectivo for só ouvir música, pense-se nas horas de Spotify que podem comprar-se pelo preço de um Steinway (embora, para este fim, a comparação legítima devesse ser feita entre um piano mecânico e o Spotify).
O Ocidente perdeu e continuará a perder parte da preponderância de que gozou nos dois últimos séculos, mas o mundo como um todo está melhor.
E esta prosperidade acrescida foi, em boa medida, fruto do capitalismo – sem capitalismo para fomentar a investigação e desenvolvimento de novas tecnologias, organizar a sua produção em massa e financiar todas as etapas do processo nada disto seria possível. Divisão do trabalho, racionalização de processos, padronização de procedimentos, gestão destocks e logística sofisticada são alguns dos truques do capitalismo para proporcionar melhores produtos por menores preços. E foi a aliança do capitalismo e da globalização que permitiu que bens que em tempos foram vistos como “luxos” ou “produtos supérfluos”, como café, chá ou açúcar, tivessem passado a fazer parte das necessidades básicas da maior parte da população do mundo desenvolvido.
Não se trata de abolir diferenças ideológicas e fazer convergir mundivisões – mas para haver diálogo, é indispensável compartilhar pressupostos básicos. Os “apocalípticos” deveriam reconhecer que nem tudo na indústria se resume a “dark Satanic mills” e que muito daquilo que hoje damos por garantido nas vidas confortáveis do mundo desenvolvido só é possível graças ao Grande Capital e que este pressupõe a existência de bancos e bolsas de valores. Por outro lado, a prosperidade acrescida resulta também da abolição de barreiras alfandegárias e da intensificação do comércio internacional.

Porque é que os habitantes de Kuala Lumpur não se mobilizam para manifestações anti-globalização? (ED JONES/AFP/Getty Images)
O Ocidente perdeu e continuará a perder parte da preponderância de que gozou nos dois últimos séculos, mas o mundo como um todo está melhor – é por isso que os habitantes de Guangzhou, Kuala Lumpur, Bangalore, Hanoi ou Seul não se mobilizam em manifestações contra a globalização. Outro passo decisivo para os “apocalípticos” seria admitir que quando os eleitores acreditam em políticos que lhes prometem que podem ter tudo sem nada sacrificar, comprometem o seu futuro e que os males que depois se abatem sobre eles não resultam apenas das maquinações sinistras das multinacionais e dos jogos herméticos dos especuladores – com a liberdade para escolher vem a responsabilidade.
Por outro lado, os “integrados” deveriam deixar de escudar-se atrás da falácia de que não há nada no mundo tão regulado como os mercados financeiros (o facto de existirem milhares de páginas de regulamentos não quer dizer que a regulação funcione, como temos visto) e admitir que boa parte do sector financeiro é não só completamente improdutivo como é uma fonte de instabilidade para a economia global. Também seria um bom princípio reconhecer que não é defensável a existência deoff-shores e do uso de esquemas de “planeamento fiscal agressivo” pelos grandes grupos económicos e financeiros – “planeamento fiscal agressivo” é mero eufemismo para “evasão fiscal”.
E tal como a estratégia de privatização dos lucros e nacionalização das perdas da banca é inadmissível do ponto de vista dos contribuintes, também o é a atitude análoga de fazer recair sobre a sociedade – e, preferencialmente, sobre as gerações futuras – os custos de reparar os danos ambientais causados por atividades exclusivamente norteadas pela maximização do lucro imediato. Acima de tudo, há que reconhecer que está sobejamente provado que a “mão invisível” das forças de mercado é insuficiente para assegurar o funcionamento da economia e da sociedade e que o Estado, longe de dever eclipsar-se, tem uma palavra decisiva nesse domínio.
Fora dos conceitos dogmáticos e maniqueístas que moldam o discurso de “apocalípticos” e “integrados”, até é fácil perceber que o capitalismo é um bom servo mas um péssimo amo.
Por José Carlos Fernandes
Fonte:http://observador.pt/especiais/o-capitalismo-faz-o-trabalho-de-deus-ou-do-diabo/

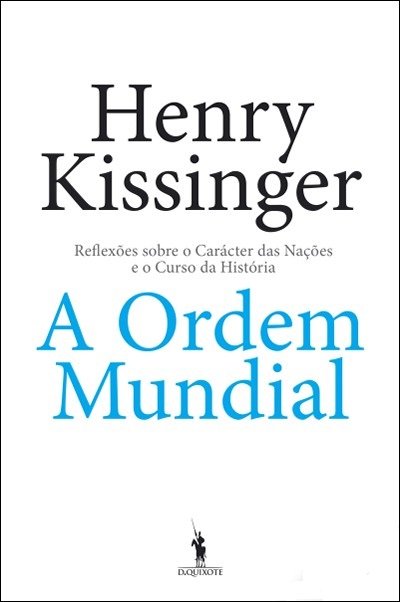
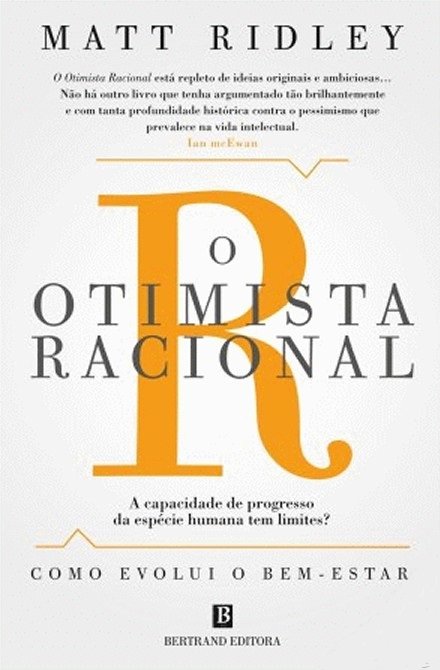
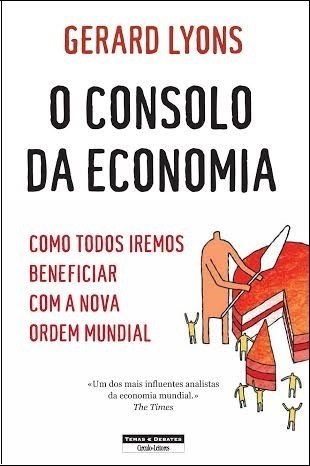

Comentários
Postar um comentário